Muito além da suposta fraude em 2025: O escândalo do ENEM expõe o modelo excludente do ensino superior brasileiro
Vazamento de questões revela não apenas falhas de segurança, mas a lógica de um modelo que terceiriza a educação, precariza o acesso e mantém milhões fora da universidade.
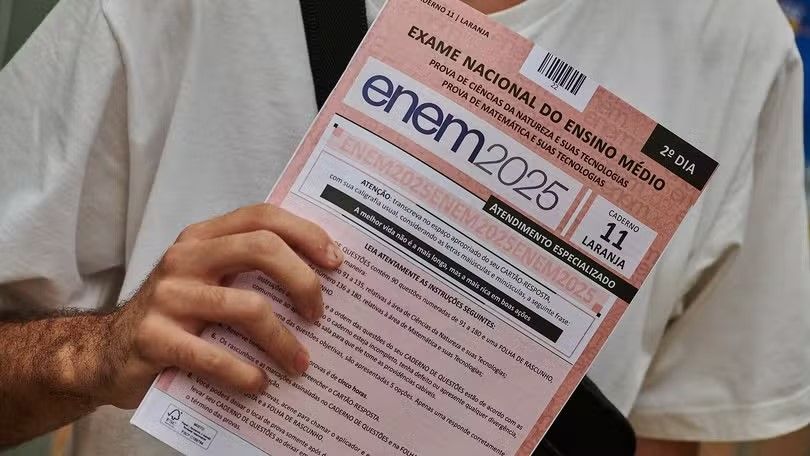
Reprodução/Foto: G1.
A poucos dias da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Edcley Teixeira, um universitário que afirma vender consultoria, realizou uma live no Youtube, onde ‘previu’ ao menos cinco questões quase idênticas às que caíram na prova oficial. A divulgação rápida do fato desencadeou uma onda de indignação entre estudantes de todo o país e provocou uma crise no Ministério da Educação.
A transmissão mostrou o jovem resolvendo supostos itens de um simulado, mas que coincidiam com questões inéditas que apareceram no exame. O episódio levantou suspeitas de vazamento, pressionou o Inep a agir e alimentou acusações sobre fragilidade na segurança do processo seletivo mais importante do país. A partir do momento em que o caso ganhou repercussão nacional, estudantes começaram a se mobilizar nas redes sociais e em grupos de WhatsApp e Telegram, criando o Movimento Nacional Anula o Enem, que já reúne mais de 16 mil seguidores no Instagram. Os integrantes afirmam que a credibilidade da prova foi abalada e que, diante do suposto vazamento, a única medida justa seria a anulação da edição de 2025. Pressionam ainda por manifestações presenciais e ações coordenadas para cobrar uma resposta mais rígida das autoridades.
O Inep, responsável pelo exame, confirmou que três das questões exibidas na live eram realmente inéditas e decidiu anulá-las preventivamente, classificando a medida como técnica e necessária para preservar a isonomia entre os participantes. Ao mesmo tempo, acionou a Polícia Federal para investigar o episódio, que o Ministério da Educação definiu como “um caso de polícia”. Em meio ao avanço do movimento estudantil pela anulação total do exame, o ministro da Educação, Camilo Santana, publicou um vídeo nesta sexta-feira (21) afirmando que não há qualquer possibilidade de cancelamento da prova. “Queria tranquilizar a cada um de vocês que fizeram a prova. O Enem não será cancelado”, declarou. Santana reforçou que a investigação está em andamento e que o governo não permitirá que irregularidades comprometam a credibilidade do processo, mas que anular o exame colocaria em risco todo o cronograma de acesso ao ensino superior. A fala do ministro, porém, não diminuiu a revolta dos estudantes que se sentem prejudicados. Nas redes sociais, relatos apontam frustração, cansaço emocional e sensação de injustiça diante de um suposto vazamento que atinge diretamente quem está disputando uma vaga nas universidades públicas.
A crise desencadeada pelas suspeitas de fraude no Enem 2025 reacendeu um debate que há anos permanece à margem das discussões públicas: o papel que o exame cumpre dentro de um processo mais amplo de mercantilização da educação no Brasil. O vazamento grave, injustificável e que exige investigação rigorosa funciona, no entanto, como um ponto de entrada para algo maior do que um episódio pontual de irregularidade.
Quando falamos em mercantilização, não se trata apenas da presença de empresas na educação. Marx explica como, no capitalismo, atividades humanas antes orientadas pelo valor social, cultural ou comunitário começam a ser reorganizadas pela lógica da mercadoria, isto é, pelo valor de troca, pelo preço que podem gerar. Quando algo é mercantilizado, ele deixa de existir prioritariamente como um direito ou uma necessidade e passa a ser tratado como produto. É colocado no circuito da compra e venda. É medido pelo lucro, disputado por empresas. E, inevitavelmente, cria-se um ambiente onde as fronteiras entre o lícito e o ilícito se tornam mais fluidas, porque tudo se move conforme a lógica do mercado.
É exatamente isso que ocorre com o Enem. Desde sua implementação, o exame está atravessado pela lógica da terceirização: empresas privadas elaboram itens, corrigem provas, operam sistemas e atuam em consórcios que movimentam dezenas de milhões de reais. Essa estrutura nasceu ainda na ditadura empresarial-militar, quando instituições como a Fundação Cesgranrio se consolidaram no mercado dos vestibulares. Mas o problema é ainda mais profundo. Não se trata apenas de como o exame é aplicado, mas do próprio fato de existir um filtro seletivo para acessar a universidade pública.
O vestibular se fundamenta na ideia de que o ensino superior, ao contrário de um direito universal, é um bem escasso – mas cuja escassez não é natural, e sim fabricada pela ausência histórica de expansão das universidades públicas na mesma proporção da demanda social. Enquanto a oferta pública permaneceu limitada, abriu-se espaço para que o setor privado se fortalecesse e transformasse a educação em negócio. David Harvey descreve esse movimento como parte da transição do capitalismo fordista para um regime de acumulação flexível, que necessita transformar tudo em mercadoria para manter sua lucratividade. A educação, antes campo público por excelência, entra nesse circuito.
A história do ensino superior brasileiro ajuda a entender esse caminho. Criado em 1808 para formar as elites do Estado, o ensino superior privado surge mais tarde, na Primeira República, ligado a oligarquias locais. A partir de 1930, com a modernização conservadora, o crescimento urbano e industrial elevou a pressão por vagas, mas o Estado não acompanhou essa demanda. Resultado: o setor privado ocupou o vazio. A ditadura militar aprofundou essa tendência, autorizando a proliferação de faculdades privadas sem compromisso com pesquisa, estruturadas para formar mão de obra rápida e barata para o mercado. Dependentes de isenções fiscais e financiamentos públicos, essas instituições passaram a atuar como empresas, priorizando matrículas e redução de custos. Com a Constituição de 1988, esperava-se uma guinada em direção ao fortalecimento público da educação. Mas o próprio texto constitucional abriu brechas para o repasse de recursos às instituições privadas. A inflexão decisiva ocorre nos anos 1990, sob a hegemonia neoliberal e a influência do Banco Mundial e do Consenso de Washington. A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 reorganiza a educação como setor aberto à iniciativa privada: cursos autorizados pelo Estado, mas geridos segundo a lógica empresarial. A educação deixa de ser tratada como direito e passa a operar como mercado.
Essa transformação não é neutra. O Estado capitalista, sobretudo em países periféricos como o Brasil, organiza suas políticas segundo as necessidades do capital. A reestruturação dos anos 1990 redefiniu a educação superior como setor estratégico para a economia, e não para a democratização do conhecimento. Privatização, expansão do EAD, cortes orçamentários, metas de desempenho e incentivos diretos ao setor privado foram apresentados como modernização, mas, na prática, ampliaram o papel do mercado no interior do sistema educacional. E todo esse processo foi alimentado por dinheiro público, injetado por meio de isenções fiscais, programas de financiamento estudantil e políticas que ampliaram a dependência do setor privado. O Estado passou a subsidiar o lucro de conglomerados educacionais enquanto a expansão de vagas públicas permaneceu insuficiente.
O resultado está colocado: hoje, quase 90% das instituições de ensino superior do país são privadas, e o EAD tornou-se um dos setores mais lucrativos da economia brasileira. Em 2007, a abertura de capital de grandes grupos educacionais consolidou a financeirização do ensino: universidades transformadas em holdings, fusões bilionárias, oligopólios e estudantes tratados como clientes dentro de um ciclo orientado à captação e retenção.
Programas de financiamento estudantil, como Fies e Prouni, vendidos como instrumentos de democratização, tornaram-se engrenagens de endividamento da juventude. Ao longo de 26 anos, o Fies foi a única alternativa para milhões de estudantes de baixa renda acessarem o ensino superior, mas também produziu uma das maiores crises de inadimplência da educação brasileira.
É partindo desse ponto que o vestibular e, posteriormente, o Enem assumem seu papel. Eles naturalizam a escassez como se fosse inevitável e justificam um funil competitivo que legitima exclusão. O filtro existe porque o Estado escolheu não ampliar o ensino superior público, empurrando milhões de jovens para o endividamento no mercado privado. Dizer que o Enem democratiza o acesso à universidade pública é ignorar como o exame opera na prática. Ele seleciona e legitima desigualdades históricas. Quem não entra nas públicas é empurrado para o mercado privado de ensino superior, onde grandes grupos lucram com mensalidades altas e cursos massificados. O próprio Estado alimenta esse ciclo ao subsidiar vagas privadas para “atender a demanda”, reforçando a ideia de que a iniciativa privada é mais eficiente na oferta da “mercadoria educação”.
Quando o acesso ao ensino superior depende de desempenho em provas altamente padronizadas, acirra-se a busca por preparação especializada. Cursinhos, plataformas digitais, escolas privadas com alto investimento pedagógico tornam-se não apenas complementos, mas etapas quase obrigatórias para quem quer “competir em pé de igualdade”. Isso cria um paradoxo evidente: um exame que deveria democratizar o acesso acaba reforçando a desigualdade que diz enfrentar.
Vale termos em perspectiva experiências importantes em outros sistemas universitários, como na Argentina, que passou por uma reforma universitária popular no início do século passado, onde a avaliação dos ingressantes não funciona a partir de vestibular, mas de um curso preparatório que realize o nivelamento.
Por isso, a pergunta central não é “quem vazou o Enem?” ou “quem se beneficiou da fraude?”, embora essas questões sejam legítimas e mereçam resposta. A questão estrutural é outra: Por que ainda existe vestibular? Por que o país não garante vagas públicas suficientes para que todos que desejem cursar o ensino superior possam fazê-lo, sem serem submetidos a uma corrida de obstáculos que funciona historicamente como filtro de classe, raça e território?
O escândalo do Enem não expõe apenas falhas de gestão. Ele revela um modelo inteiro de educação superior que, desde sua origem, opera com bases privatistas e excludentes. Um modelo em que o Estado se tornou avaliador e regulador, mas não garantidor do direito à educação. Diante de todo esse percurso histórico do ensino superior no Brasil e da forma como ele se estruturou para servir aos interesses do capital, é preciso afirmar com clareza o problema central não é técnico, é político. A falta de vagas nas universidades públicas não é fruto de incapacidade administrativa, mas de um projeto consciente de Estado que mantém o ensino superior como privilégio para poucos enquanto subordina a educação à lógica do valor de troca.
Os erros e falhas no Enem deste ano, embora graves, acabam funcionando para reforçar uma ideia enganosa de que o acesso ao ensino superior depende apenas de corrigir “problemas técnicos”. Isso desvia o olhar do essencial: mesmo sem fraude, mesmo com a prova funcionando perfeitamente, a imensa maioria dos jovens da classe trabalhadora seguiria de fora da universidade. A estrutura atual já foi desenhada para isso. Enquanto o projeto de educação estiver subordinado à lógica do lucro, da competição individual e da expansão do setor privado e não à garantia de direito, universalidade e formação humana, a exclusão será a regra. O que estamos vendo agora não é um ponto fora da curva, mas a continuidade de um modelo que naturaliza que milhões fiquem de fora e que a universidade se torne cada vez mais um mercado, e não um espaço público de produção de conhecimento, ciência e crítica social.